MAURICIO SALLES VASCONCELOS
De Oedipa Mass (Thomas Pynchon, em O LEILÃO DO LOTE 49) a Matamoros (Hilda Hilst, TU NÃO TE MOVES DE TI) – Inevitavelmente, se revela o ingresso em questões não indagadas com marcas interrogativas, destituídas de elos explícitos no que toca a conexões consecutivo-causais. Especialmente, quando se tem em pauta um projeto de escrita narrativa (arte centrada na instalação mobilizante de pistas/motivos/trilhas inquiridores em desdobramentos extensos) –
Estratégia producente se mostra incursionar por indagações-paradoxos, essas que se armam em labirintos, em limiares, potenciais pistas: a sequência está no interior da sentença (o trabalho fabulativo consiste em decifrá-la ao compasso de sintagma – frase – imagem – palavra em cadeia enunciativa).
Em vez de se lidar com vias esclarecedoras, condutoras das hipóteses que se abrem no processar de um relato – Em muitos dos casos, sendo (o que se relata) mais um ato do que um esquema cerrado na disposição linear de uma fábula a partir de um arcabouço, uma articulação já esquadrinhada, posta numa programática execução –
Porque sempre importa, no espaço literário contemporâneo, fazer emergir os veios (microscópicos, expandidos linha a linha) que produzem a fabulação. O que ocorre tantas vezes como enigma, inseparável de um percurso dotado de força para mover uma sequencialização de sentenças surpreendentes ( Estas se potencializam, antes de tudo para quem escreve, no decorrer de uma experiência, ao descobrir a gradação do que se plasma a contar de um projeto a início traçado, quando não de um simples impulso criativo).
Por mais que se parta de um certo plano de situações/ações reservadas a personagens. Ou: inomináveis figuras antropomorfizadas quando não anímicas, inorgânicas, objetais, havendo um painel de possibilidades não redutíveis ao humano nem a dicotomias (não/pós) humanas. A questão vem depois –
Surge no decurso de quem se põe a escrever. Como se coubesse ao lugar-do-autor uma investigação: passo a passo, um foco sobre a crescente configuração de algo advindo conjuntamente de uma autoria e da insurgente matéria escritural ali a se arquitetar em tela-página-pauta.
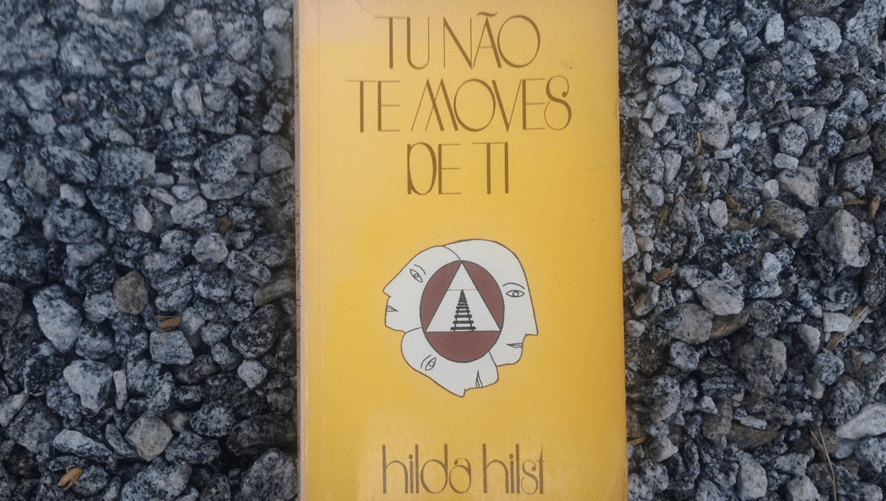
Matamoros –
“Ó menina, porque tocas em tudo como quem vai dissecar uma fundura? diz a mãe com cara retorcida em agonia de choros, fujo, fera-menina escondida nos tocos, me pego, dedos do pé apertados, tão curtos, distendo-os puxando as pontas e com eles converso… (Hilst, 1980: 55)
Abrem-se muitas vertentes entre uma interpelação e um questionamento logo indiscernível na fusão formada entre quem pergunta e sobre quem (?) aciona a emissão indagadora.
Uma situação faz revolver outra, diminuta que seja (em meio a tocos e a mirada sobre pequenas pontas de pés, tal como revela o excerto de Matamoros), capaz, contudo, de amplificação do que se lê aparentemente numa única direção.
O modo de perguntar, em Hilda H., já é presentificação de um enredamento/rede configurada em várias vias. Em especial, neste Tu não te moves de ti – à maneira de tantos outros livros, como os de Jabès (escritor centrado em livros, que são conjuntos de questões) ou, mais recentemente, Mark Z. Danielewski – impulsionado e construído por sondagens vertiginosas, direcionadas para veios vários. Assim se encerra a viagem/voragem de Axelrod (da proporção);
…me dá tua mão, Axel, (comeu-me o sufixo, não importa) talvez me veja um pouco abade, abacial, tenho ares de, apesar da magreza, abade Axelrod, ali vai Axel o abade, amanhã ventrudo, tropeçou, vê só, me dá a tua mão, Axel, que tons, como se os turíbulos tivessem passado há um segundo, como se eu lhe tivesse dado escapulários, obrigado abade Axel, posso lhe beijar a mão? vou me levantando inteiro abade, curvado vou me fazendo, tento chamar a velhice, fazer ares de, quero ser velhíssimo neste instante, e agachado correndo, num erro senil estaco. E numa cambalhota despenco aqui de cima, nos ares,
morrendo, deste lado do abismo. (Ibid.: 138)
Perguntar, em literatura, implica narrar uma ação: entre escuta e abissal interpelação, eminentemente anticomunicacional, engatada já em microeventos indispensáveis, insufladores da força da ficcionalidade (em aberto, irrompidas por microfissuras questionantes). No caso de H Hilst, a conversão do viajante Axelrod em abade, proferidor de um não-dogma, que vem a ser a narrativa mesma, em sua pujança indagadora, ao lidar com figurações do humano em metamorfoses heterodoxas.[1]
Justo, o que se engendra e logo engrena-se na contramarcha dos cadernos de reflexão, questionamentos de autoajuda, mesmo sob auxílio de algum entrecho fabular embutido. Enfim, toda uma corrente de bioescritas recai num mesmo ponto monovalente, guiados que são tais textos em formulações ainda egocentradas. Algo transcorrido comumente no contrafluxo das mutações de ser. Mesmo em seu andamento confessional, testemunhal, quando escrito se apresenta de modo transitivo, disposto, portanto, num contrato relacional, propício ao surgimento simultâneo de uma dimensão fictiva, extensiva de-si. Pois o projeto de escrever só pode ser articulado em plena potência enquanto se efetiva o pacto com esferas enunciativas em transformação do reconhecível, do reportável a uma única e fixa identidade reguladora, dominante, do processo de uma autoficção. Ao avesso da autoridade de um eu em exposição peremptória/legitimação final.[2]
Jamais são pensamentos o que se escreve no contato expansivo da criação de um texto (mesmo sob modulação testemunhal/documental) – Nada se ativa no comando/controle de sentimentos ou mentações (os mais motivados, mobilizantes que sejam). Já apontava W.S. Burroughs, nas proposições dos cut-ups, essenciais para a escrita na contemporaneidade. A força propositiva de um texto não sai “da cabeça” (de uma vida “mentada” dentro de um dado desenho favorável a relatos/remissões). Nada tem a ver com a arquitetura de um esquema a ser gradualmente amarrado, em confirmação do que se passa numa única dimensão (autoral, racionalizadora de vida/linguagem/gênero de escrita).
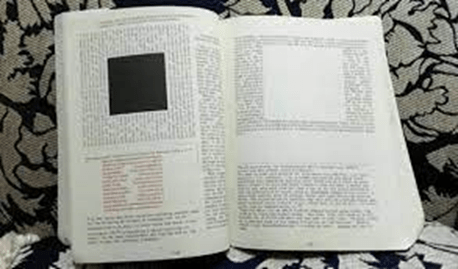
Pick-ups (como o filósofo Deleuze renomeava os experimentos de Burroughs): em atenção ao dado de que as artes (mesmo essa pretensamente defendida dos espetáculos midiáticos, audiovisuais por excelência, chamada literatura) não se eximem da inserção em um mundo crescentemente regido por técnica, alta digitalização e mediatização de dados e atos. Novos portais são abertos para projeção do literário bem além de uma redoma sedimentada em operações intelectuais, sensíveis, expressivas, timbradas com uma visível data de vencimento.
A mescla, a apropriação do adverso/reverso de uma câmara autônoma, asséptica, destinada monoliticamente à arte, faz parte do trabalho de escrita. Desmontagem e distorção do que se deu, já, como escrito (patrimonializado, recorrente, timbrado por algum aval disciplinar).
Ao contrário de uma auto-defesa regressiva, quando a historicidade se faz senso intervencional, indissociável da tekné desde os modernos. Desde a proposta de W. Benjamin, sempre em sintonia com Baudelaire, em torno da autoria como produção, da literatura em meio (enquanto meio), refigurada entre outros sistemas de informação, de acordo com as instigantes teses do semioticista das mídias, Friedrich Kittler, imbuído, aliás, de finas análises da (s) história (s) da literatura a contar da antiguidade grega, com grande foco no romantismo alemão e na presença exponencial de Pynchon na contemporaneidade.
No contexto de uma cultura digital, enfim, consolidada, aí é que mais se acirram os modos interventivos, inventivos, de se fazer livros.
Desponta uma concepção de narrativas, poemas, combinações híbridas, dialógicas, teatrais, ensaísticas, entre planos. Entre um apelo hipervisual, um fragmento da Web, uma pulsação da máquina-de-escrever informatizada para a qual se encaminham todo gesto e Gestalt escriturais, o escrever se situa como uma depreensão e ativação de possibilidades, que vêm a ser a própria narrativa de seus intrincamentos relacionais em rede (para fora de um atrelamento ao maquinismo computacional, diga-se) – Entre os quais a matéria verbal, com sua sintaxe sempre em situação, mais estende seu vórtice de realidades e realizações num tempo sempre presente, simultaneamente partilhado com muitos campos e agentes/agenciamentos mais e mais diversificados.
Em House of Leaves (2000), de Danielewski, fica patenteado por sua forma cruzada de ficções e disposições reconfiguradoras do objeto-livro (uma casa-de-folhas, como explicita seu título), o modo como este exemplar romance experimental extrai desafiadoras formas de ler, grafar, inscrever e imprimir. O que se dá paralelamente ao empenho de escrever (aliás, este é seu tema secreto), numa era maquínica, altamente instrumentalizada, tecnificada.
Em simultâneo ao fator de disseminação e compartilhamento que se impõe ao material literário erguido à condição de arquivo. Donde se passa a contar com armazenamento e segredo/arca de encriptações e dispersões a um só tempo lançadas por um plot básico/cinematográfico (um filme perdido a ser reconstituído desde sua gênese até sua atual localização), tendo tal mistério como motriz das ações e sublevações de um espaço aberto à leitura. Esse se apresenta assombrado, porém.
Há um toque terrorífico na disposição dos muitos gêneros visitados no espaço da casa/narrativa composta por Danielewski. Através das margens de indeterminação (assinaladas sempre por inserts gráficos desconcertantes, plasticamente impactantes) irrompidas no compasso da diegese em articulada construção (por força de um descentramento original).
De modo intrigante, o romance singular de Danielewski, com toda uma entourage grafoplástica por meio da qual livro e leitura se redesenham à altura de um techno design, mais fortemente faz-se marcar a potência indagadora da escrita.
Especialmente, quando o volume de literatura – o chamado escrito de “imaginação” – se enlaça com formas móbiles, interseccionadas pelo corte infonáutico/informacional que redesenham as folhas de uma narrativa (provindas do chamado hoje “livro físico”). Essa, disposta a empreender uma sondagem sobre vestígios, numa convocação inquiradora a quem lê por meio de voltagens não cumulativas, nada causais, de sequência – enigma – questão.[3]
A página do livro, no interior da Casa de Folhas, é outra – particularmente, ao envolver o romanesco numa multifoliada dimensão, incisiva à esfera da visão e à concatenação leitora (textos em várias fontes e posições transversas ao longo do volume) –, tomada por um grafismo webnáutico, entre parágrafos correntes de enunciados verbais compactados numa fiação de episódios guiados aos seus extremos de notas, incisos, incursões variadas. De uma forma curiosa, se tornam, então, mais aguçados os modos de ler e seguir entrechos narracionais.
Sob um intermitente impulso indagativo e o fascínio por se deixar levar por planos de concepção arquitetônica de um texto. Uma vez que se revelam inseparáveis do incessante mistério acerca do devir da escrita numa conjunção/conjuntura de signos intermediáveis e exorbitados de um único espaço de referência, de sequencialidade.
A própria existência da literatura hoje se faz tema em Casa de Folhas – Sem descarte da pauta atraente de intrincamentos na condução de intrigas, montagens diversas, repertórios extensos, formatações gráficas e formulações conceituais próprias de uma época em que a escrita se problematiza a um ponto agudo, mas também se projeta como ambiente propício a aventuras fictivas e especulações ao infinito. À descoberta de uma questão (a criação e o desaparecimento de um filme-chave para uma família e a habitação de uma casa) refratada no preciso locus do livro.
Como se exatamente aí se concentrasse (em tal receptáculo ancestral e, a um só tempo, atuante, alea, livro) o inevitável chamado à leitura de um universo midiatizado pela visualidade. Por tudo que se efetiva pelo toque de imediaticidade dos apelos comunicativos-funcionais, em suas gradações abrangentes de fábula e factualidade material de inscrição –
Tudo o que não se apreende nas compactações cotidianas das folhas volantes em arché do mundo-imagem e das imagens-de-mundo: regresso e renovo do ato de ler/escrever, no avançado projeto literário de Mark Z. Danielewski.
[1] Blanchot, em A parte do fogo, destaca em Nietzsche a potência multiplicadora de indagações como motor de uma nova ética e de uma filosofia radicalmente alterna, em sincronia com as subjetividades em confrontações para além de uma abstrata e monovalente ideia de ser, verdade e linguagem. Veja-se o ensaio “Nos caminhos de Nietzsche”, contido no livro citado.
[2] O eu é uma questão a ser escavada, numa ampla projeção, intrínseca ao desígnio de escrever. Indissociável, se apresenta, pois, de uma iniciação em outro âmbito, vindo daí o interesse em autorrelatar-se. Sob impulso coetâneo de um certo senso de súmula (desenho de uma vida, propício a exteriorização) e de uma translação para muitos outros, cada vez mais diferentes leitores, interligados num pacto/contrato de biodoc. Por escrito/Por meio de um outro inevitavelmente desdobrado do que se sabe de si e se refigura num diálogo, decurso, depoimento por mais ficcionalizado ou garantido pelo propósito marcadamente autobiográfico. Senão: surpresas do empreendimento de escrever. Através de uma decisiva forma ficcional o encontro com os motivos mais íntimos, reveladores da subjetividade de quem cria, podem também se manifestar de um modo menos evidente, nada programado. Surge uma pujança de nuances por vezes impossibilitada pelo empenho tão somente proporcionado na vertente simplesmente insertiva, modelar, do biorrelato. Neste caso, tudo que seja acoplado a uma ideia prévia, imobilizante, recorrente de Sujeito. Quando o não-saber define o fazer/ser humano, no interior de um infindável plano de experiências sequenciadas (um campo-de-provas na acepção nietzscheana atualizada por Avital Ronell no seminal livro-ensaio The Test Drive).
[3 } Das sequências criadas, de uma a outra sentença, um enigma já começa a se lançar para quem escreve. Paulatinamente, passa a se tornar uma questão (surgida posteriormente com toda uma voltagem amplificadora a envolver as próprias formulações contidas no interior da linguagem, do literário em pauta). Mesmo se há algum traço/grafo problematizador surgido a início, é na gradação do fazer um narrado que suas motivações mais vibrantes, em emergência, acabam pontuando seus sinais mais reveladores e abrangentes. Um dinamismo do fazer, inseparável do gesto de ler (a começar de quem escreve), então, se plasma. A partir do progressivo sondar, em jogo, entre o que se sabe e o não-saber essencial de vida/linguagem. Quem narra não fica sem se abster de ser olhado pela linguagem revirada sobre quem a produz. De modo a incitar o enigma-questão-sequência de um trabalho inevitável sobre si (uma sobrecamada de aventura vitalista e criadora), a refazer de um livro a outro o pretenso lugar posto da autoria.
