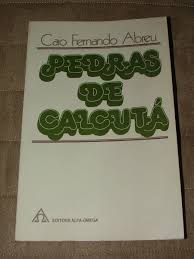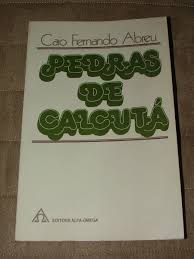
CAIO F. – UM GURU DO CONTO BREVE
(Releitura/Entrevista)
Seguem respostas a uma entrevista, que acabou não sendo publicada. Texto inédito.
1
Sobre os pontos de ligação entre os vários gêneros/textos produzidos por Caio Fernando Abreu: há sempre uma atuação simultânea na linguagem e no dado existencial, de quem exerce, seja em qual gênero for, um certo registro testemunhal. Destaca-se, sempre, o traço de quem passa por uma experiência de linguagem extensiva a uma afecção (própria de quem vivencia um modo de recepcionar e relatar um processo de subjetivação na História).
Algo que se refere a um trânsito, no tempo, percorrido por textos, gêneros, documentos estilizados e consolidados em certos formatos, reconhecível como literatura. É isso que faz a liga em quem lê Caio F., desde seu surgimento, nos anos 1970, até hoje, já, no âmbito da chamada tecnoesfera, onde é tão popular.
Tudo por força de escritos tornados recortes – aforismas. A força vem do modo fragmentário de compor –
Montagem de época, apreensão intimizada das formas de atuar no espaço da literatura, em sua circulação diferenciada de voltagens, enunciações e tons discursivos/remissivos/dialógicos (do conto à crônica, do teatro às cartas). Salienta-se um estado nervoso da escrita, a evidenciar a imediaticidade de quem se direciona para vários campos do texto em suas variantes jornalísticas, inclusive – resenhas sobre livros, intervenções cronísticas, notas de vivência mescladas a reflexões culturais, literárias.
2
Despontam logo o nome, a imagem de Clarice como autor referencial impactante para aquela geração nascida na década de 1940 (detectável, também, em João Gilberto Noll e no primeiro Sérgio Sant’Anna).
Numa conversa que tive com ele (início dos anos 1980), o lugar de Clarice foi bem destacado e considerado central, embora não haja tantas citações a respeito. Os sinais de Cortázar são bem mais visíveis, especialmente na gênese de O ovo apunhalado, livro em que citações do autor portenho podem ser apreendidas através de trechos, títulos e recriações de seus motivos e entrechos, passíveis de se resumir como o fantástico (toda uma tradição da literatura argentina moderna) trasladado para o campo experiencial da geração que viveu, conjuntamente, a contracultura e a ditadura militar.
Sobre Clarice, ainda, vale ressaltar a perspectiva intimista a partir da qual a radicação ontológica serve de sonda para revirar posturas culturais, modos de vida enraizados em concepções opressivas acerca de um posto tão soberano quanto abstrato ocupado por “humanos” . Esses componentes propiciam, na sensibilidade criativa de Caio, um universo de incursões pela linguagem através de uma grande intensidade poética e especulativa das formas de ser, a um ponto agônico de embate e contrafacção. Em seus melhores textos, observa-se a capacidade de aludir a tal proveniência e de transmutá-la para o contexto de uma outra época (tanto em termos de existência quanto em concepção de escrita).
Já nos anos 1980, em Morangos mofados e, de um modo mais bem acabado, em Os dragões conhecem o paraíso – livro editado após a ditadura brasileira – os referenciais são mais híbridos. Neste último título, deve ser salientada a atuação do escritor na imprensa cultural, em jornais como O Estadão (onde assinava coluna/lugar como cronista) e na revista da boate Gallery – Around (ali fazia críticas de livros). Há um toque de crônica em certos momentos desse último Caio – especialmente em Morangos mofados – algo que acaba delimitando um pouco sua atuação escritural tendo-se em conta sua alta legitimidade e visibilidade no espaço urbano de São Paulo (nossa metrópole pós-moderna).
Por outro lado, ele impõe de modo mais deliberado suas confrontações com a realidade gay. Todo um capítulo deve ser aberto nesse sentido no que toca à forma de sensibilizar, afetualizar, erotizar mesmo, uma estética orientada para a captação do universo da homossexualidade (na literatura e na cultura). Parece haver aí um diferencial dos mais instigantes.
3
A respeito de possíveis legados deixados pelo escritor, vem logo à mente Clarah Averbuck, em seu primeiro livro – Máquina de Pinball (2002). Lê-se nesta narrativa uma disposição similar a de Caio no que toca à documentalidade da experiência combinada com uma aderência plena aos novos campos de inscrição/linguagem/tecnologia e arte, para além de qualquer vínculo mais centrado, ou seja o que se chamava há muito tempo atrás de influência.
Embalada pela nova onda de rock trazida com os Strokes, no início do milênio, e pela escrita blogger, lida-se com uma força equivalente a de Caio no rolar dos nossos anos de chumbo. Caio mira o pop, o fantástico, as inquietações contraculturais, depois a sensibilização para as posturas minoritárias, a homossexualidade sobretudo, num encaminhamento para uma época em que a investigação sobre o contemporâneo se faz aguda. Uma voragem erótica permeada de angst, se mostra observável numa escritora como Averbuck, que abriu os veios de uma literatura sintonizada com os millies e, curiosamente, meio que saiu de cena.
4
São jovens, com certeza, que recepcionam Caio a ponto de torná-lo um fenômeno autoral na web. Mas expando o entendimento da disseminação de seus textos. São jovens de todas as idades, no compasso bem aberto de leitura, propiciado numa sintonia grande com a linha sensível das comunidades na rede e na vida (algo que tem a ver com a formação de tribos numa dinâmica bem expandida). Tudo o que fomenta uma afecção na cultura – nessa mesma, digital, em que estamos instaurados em todos os sentidos, e da qual não nos retiramos para dar conta das sexualidades e das sensações, dos sentimentos mais diversos.
Mulheres e homens, velhos e crianças, sob um toque ultrassensível de voz vivencial advinda do tempo da escrita de Caio F, potente o suficiente para interferir na teia neural/viral/virtual de afetos outros, em interrelação, que tornam homens cada vez mais tocados pelo feminino/pela feminização do mundo (para dizer com Avital Ronell) e, também, as mulheres mais plurais, multiplicadoras de outras instâncias renovadas dos feminismos e do feminino. As idades fazem trocas interessantes. A literatura se descola do livro, sem perda de seu teor estético específico, abrindo-se para inserções inventivas entre vida e tecnologia, história cotidiana e as multiconfigurações textuais/culturais.
5
Haveria um Caio desconhecido? O que resta dizer, ler? Eu cheguei a dar início a um longo ensaio, proveniente de um programa radiofônico de literatura – “Contistas brasileiros” – que produzi entre 1979 e 1985 na Rádio MEC (Rio de Janeiro), onde iniciei meu trabalho de escrita, mais particularmente com a crítica de literatura. Conheci Caio quando o contatei para passar esse material de estudo desenvolvido no rádio. Meu projeto se intitulava “Um guru do conto breve”.
Para mim, falta – antes de tudo para mim – a realização dessa leitura, centrada na produção peculiar do autor gaúcho a partir das formas breves. Pois ele as conduz com um toque muito próprio, que não só reverencia as matrizes de impacto e suspensão/suspense do gênero conto. Mas atua numa faixa vibratória, que passa pelo fantástico latino-americano (Cortázar, Quiroga, Borges, autores lidos por ele) e já alcança uma propagação de elementos extraídos daquela convergência entre contracultura e conjuntura opressiva no Brasil militarista, de uma escrita jovem – timbrada pelo pop, pelo toque de época –, advinda, também, de seus contatos com escritores exponenciais (de Clarice ao Gombrowicz, de Bakakai).
Um fantástico capaz de provocar delírio por força das órbitas estéticas da contracultura e, por outro lado, pelos confrontos com a loucura e a repressão em todos os níveis, tendo-se em conta a conjuntura ditatorial.
Talvez seja isso que explique um tanto o fator disseminante de Caio F. em outra borda de tempo, na gradatura da brevidade e de uma faixa de captação, que se entranha de literatura. Contudo, faz, também, passagem para outra sensorialidade/sincronia da palavra narrativa em tempo exíguo, veloz, compactado. Algo da revelação de um guru (observando-se inclusive o lado mítico/místico embebido na esfera contracultural em seus matizes orientalistas) entranhado da paixão mais momentânea, a mais mundana, frise-se. Pois, para mim, leitor de 20 anos de O ovo e Pedras, Caio Fernando Abreu foi uma referência nessa direção, no país naquele momento.
6
Não sei dizer, mas talvez o ponto de maior problematização e polêmica a propósito dos escritos de Caio F. venha de um traço epocal indisfarçável, deliberado, aliás, da parte do próprio escritor.
Uma leitura interessante – tento sempre sugeri-la (e o fiz nas duas orientações que supervisionei sobre ele, uma de Doutorado, na UFMG, e agora uma de mestrado, ainda em curso na USP) – tem sempre a ver com o enfrentamento de sua contextualização. Não adianta fazer a ponte direta desse autor situado a contar dos 70, em atividade até a década de 1990, para um instante tão diversificado quanto o nosso, sem considerar as motivações existenciais e as modulações literárias de sua época, passíveis de uma analogia com o nosso momento (e os instantes de suas leituras posteriores). Aí, sim, sua força reaparece como um projeto construído historicamente para além de atemporalidade, universalidade, e todo tipo de enfoque que despotencializa a historicidade para fazer acoplagens eternizantes do autor (assim como de todo projeto autoral).
Compreender a contingência de Caio, em meio à alta taxa de energia criativa e estilística presente em sua literatura, possibilita aumentar a faixa de sua recepção mais plena, mais nuançada, em outro tempo. Ao captarmos seu campo-de-forças, suas linhas tópicas, teremos como entender sua grande recepção atual, seu poder de afecção em outros momentos.
7
Vejo os textos todos num grande intercâmbio. Há culminâncias e fulgurações de linguagem, pontos de apreensão da existencialidade bastante apurados nos vários gêneros. Porém, dou um foco maior aos contos. Gosto, em especial, de Pedras de Calcutá, sem se omitir a maturação alcançada em Os dragões não conhecem o paraíso.
Capto, no livro de 1977, um aspecto volante de quem escreve um livro de narrativas breves desplugado do parâmetro demarcador de um gênero. Talvez por ser bem jovem à época e ter logo lido as Pedras, tudo me soou com a força de um disco, de uma performance, feitos com a inteireza de quem se entrega ao seu tempo. E, também, o depura através de um modo fino de decantá-lo com a potência integral de variedade e a leveza de quem faz rabiscos por todos os lugares, inscrições nas peles e no ar de uma época.
Há que se frisar o aspecto da instantaneidade – de uma juventude inerente a quem se põe inteiro na arte por força do que há de efêmero, sempre nutrido, no entanto, por um embasamento de quem captura forças por todos os lados, em impressão escrita ou sonora, fílmica, gráfica, nas dimensões mais variáveis de arte e pensamento. Mas é desse pacto com a vida imediata que tudo se propaga e ganha duração, como se percebe hoje numa outra conjuntura de emissão e distribuição da matéria escrita. O que ocorre, em torno de Caio F., de um modo paradoxal e crescentemente intrigante.