Categoria: Sem categoria
A Força do Queer


A contar do seu título – através da dinâmica de um anagrama sob o toque de propagação inerente à sua problemática ficcional –, a atual Novela das Nove – programa reiterado ad infinitum feito pano-de-fundo da vida no Brasil (uma “instituição” midiática, como alguns frisam) –, A Força do Querer promove sua recepção como A Força do Queer.
Com a supressão de uma única letra (e o ingresso em outra língua), o jogo formado com o nome da novela não se lê apenas como uma gozadora, gozosa associação. Desencadeia seus mais interessantes desdobramentos tendo como premissa o fator temático (constante das “linhas programáticas” de novelas e seriados, na incorporação dos efeitos de verismo e atualidade), tal como se evidencia no teledrama escrito por Glória Perez. Tudo o que se faz visualizar no debate acerca do transgênero propiciado pelo personagem Ivana/Ivan (Caroline Duarte) como também pelos atores Tarso Brant (no “papel” de si mesmo, Teresa/Tarso) e Maria Clara Spinelli (conhecida artista transsexual, intérprete de Miraceli, a secretária fake de um escritório de advocacia), integrantes do elenco, assim como se destaca na trama o travestismo de Nonato/Elis Miranda (Silvero Pereira). No entanto, ressalta-se o componente cross-gender por seu caráter de força, dado em um conjunto/campo, passível de se apreender através do desfile multitópico sempre apresentado pela novelista Perez (de um modo mais flagrante e, também, abrangente, a partir de O clone).
Ao alcance de um ponto em que querer não se dissocia do traço queer, ocorrem uma modulação e montagem narrativas capazes de expandir a compreensão insurgente e disseminadora da sexualidade no que envolve legibilidade/legitimidade em seu momento de projeção pública via TV, de sua ficcionalização como foco central. Queer quer dizer querer. Algo que pulsa muito além de um trocadilho de época (da época em que se passa a novela e, no futuro, poderá ser passível de servir como mera alusão paródica, “achatadora” de seus mais vivos elementos tematológicos, ao instante em que é transmitida, exatamente no ano de 2017, desde abril e com duração prevista até outubro/novembro).
O mais interessante na ambivalência de A força do querer, possível de ser entendida como A força do queer, está justamente na captação de um instante no tempo. Ganha relevo, de modo bem preciso e também pontual, o elemento característico da efemeridade da Telenovela, juntamente com seu poder de pregnância e captura de um decurso histórico de personae/figuras/elementos temáticos e culturais (de um modo serializado, cotidianizado, que nenhuma outra forma de arte e mídia realiza tão direta e flagrantemente, no interior de cada célula/casa/cabine de recepção noite a noite).
No momento em que a emergência da sexualidade em suas variantes trans se tornam mais e mais transparentes, apontando para diferentes formas de atuação no âmbito de estudos, espetáculos e eventos, a nova Novela das Nove centraliza tal enfoque numa derivação de prismas. Observável é a gradação (giro de sentido sobre um polo “temático”) que vai do luxo/luxúria do transformismo do motorista Nonato em Elis (Regina) Miranda (Carmen), à luz da diva-drag Jane di Castro, até tocar na angst da transição vivida por Ivana – com todo um tratamento sensível, intimista – na adoção da identidade de Ivan.
O sinal trans se revela com a dimensão possante de atravessamento – de modo a revelar o ultrassigno queer (que eu extraio do querer) como atributo polivalente das novas formas de sexualizar difundidas pela esfera crossing de modo mais explícito, patente.
Sob a imagem-coringa/palavra-passe/passe-partout da sexualidade, o Queer de todo Querer se faz deslizar sobre uma cadeia semiótica crescente, plurissignificativa dos diferentes planos inter-relacionados, intercambiantes, tomados pela afecção do que transita/traveste/transmuta. Enquanto cada um – dígito/índice de audiência – assiste à onipresente (em paroxismo e imantação simultâneos) Novela das Nove.
Passe-partout da socialidade – Passa-por-tudo o prefixo indicador de trajetória/transporte do querer. Não se separa mais do devir e da deriva de toda forma de sexo, indescartável, por sua vez, de uma travessia pela extensão do campo social.
Formulo aqui tais vertentes/variantes da transsexualidade com base no conceito de transdisciplinaridade concebido por Félix Guattari, desde os anos 1960 analista das novas formações psi, subjetivas, de gender, aos graus mais diversificadores das mutações dos campos das Ciências Humanas (e não só, quando se consideram suas inserções nos domínios da neurociência, genética, cibernética, física, entre outros). O co-autor de Mil Platôs já podia assinalar no desbravador O Anti-Édipo (ambos escritos ao lado de Deleuze) uma fonte produtora de formulações que ainda hoje percutem no universo contemporâneo de saber/sexo/ser:
…cada um é bissexuado, cada um tem os dois sexos (…) E assim, o nível das combinações elementares, é preciso fazer intervir pelo menos dois homens e duas mulheres para constituir a multiplicidade na qual se estabelecem comunicações transversais, conexões de objetos parciais e de fluxos… (Deleuze e Guattari, 2010: 97)
Partindo do estudo de La recherche du temps perdu, Deleuze podia lançar em Proust e os signos (em 1971, na segunda versão do livro) o ponto de seu encontro com Guattari, detonador de processos inovadores em várias esferas de conhecimento e acontecimento desde os 70. Quando incorpora o conceito de transversalidade proveniente do pensador da esquizoanálise, o filósofo não só transforma a análise do texto proustiano, como também a rota de seu itinerário disciplinar. E, ainda mais, fomenta nos âmbitos de cognição, arte, cultura, comportamento e sexualidade, uma chave poderosa de recomposição da origem, história e do horizonte sexuais, tal como se abre plenamente em nossa atualidade neomilenar, possível de ser lida no ativismo teórico de Beatriz/Paul Preciado.
Em seu ensaio “Da filosofia como modo superior de dar o cu”, a (o) escritora (o)/teórica (o) espanhol (a) deixa bem nítido o alcance de sua atuação enquanto transgender no universo dos “estudos da sexualidade”, alçando-os, no mesmo movimento investigativo, a uma desenvoltura especulativa capaz de redesenhar fronteiras filosóficas e o lugar tantas vezes estanque das matrizes literárias institucionalizadas como domínio soberano, pretensamente refratário à vida corrente/torrencial dos corpos e bens simbólicos em seus trajetos/cruzamentos tempos afora. O foco no conceito, proposto por Deleuze, de “homossexualidade molecular” – “materializada através de um coming-out que não se deixa reduzir nem à identidade nem à evidência das práticas” (Preciado, 2014: 173) – possibilita um debate/impasse da parte de Preciado, que muito contribui para as derivações do que se concebe como “hermafroditismo inicial” (nos termos deleuzeanos em torno de Proust) e se anuncia como “dissolução dos gêneros, o final do sexo como acoplamento de órgãos” (Ibid., 188).
Compreendida a homossexualidade como “a verdade do amor” (Proust Deleuze), a gênese de todo-sexo, o corte com o identitário em favor de uma homossexualidade-transversal acaba por irrigar o “arrombamento” da existência de todo ser – “uma espécie de enrabada [encoulage]”, frisa Preciado (Ibid., 192) – muito além da cópula/fecundação. Toma o primeiro plano um ataque-afectuação por detrás, ao modo de uma vida integral pela trilha da dorsalidade (como insemina David Wills, no essencial Dorsality). Desenrola-se a emergência, enfim, de um corpo integral em contrafluxo da ratio, em dissidência com o rosto/persona/espelhamento do humano cindido pela discursividade autotélica do nome/sexo próprios, de toda uma disposição insulada, segmentada, na simples assunção de uma identidade. Quando, depois das imprescindíveis marcações/afirmações históricas, no tempo presente as vivências todas se abrem para o desafio de manter a crista do desejo em alta, ao ritmo das flutuações sempre pluralistas, nascidas intermitantemente da erotização movida de um ponto a outro de um hibridismo de base.
Esperma, rio, esgoto, blenorragia ou vaga de palavras que não se deixam codificar, libido demasiado fluida e demasiado viscosa: uma violência à sintaxe (…) o não-senso erigido em fluxo, plurivocidade que volta a adentrar todas as relações. (Deleuze e Guattari, 2010: 179-180)
A dinâmica da implosão dos gêneros, contextualizada pela fascinante incursão do psicanalista argentino Ernesto Sinatra ao mundo de L@s nuev@s adict@s, não se pode abster do lastro da feminização do mundo como norteamento dos modos de viver/fazer sexo em um longo processamento de muitas décadas, de um a outro século/milênio.
Uma vez dissolvido o lugar masculino – paterno, onipresente em outros espaços de poder conexos ao regime familiar, comandado por uma noção de ordem determinante – como norma regida pela interdição (a partir da blocagem das infindáveis combinações de gozo/parcerias), a contemporaneidade avulta pela sinalização do devir sob a forma-mulher. Ao compasso das demoiselles en fleur, lembra-nos O Anti-Édipo em mais outra consonância proustiana. Impulsiona-nos o feminino em nascença, em afloramento festejante, um estado virgem definidor de todos os seres/sexos, em vez de ocupar um lugar apropriado, já acabado da marca femina sobre qualquer um/um a um. O devir-mulher desponta também para toda mulher.
Com o fim da família e do acoplamento/casal guiado por metas reprodutoras, as sexualidades (hetero/inter/través/trans) irrompem em um extracampo, lançado, entretanto, em infindável reconfiguração. Observável é o sinal incessante de um mais/um a mais/cada vez mais desempenho prazeroso, através de um chamado incansável de liberação/livre escolha. Hoje, invés da proibição do sexo, incita-se o acúmulo do gozo como regra. Por seu turno, nota-se como todas as formas/forças se confrontam com as dimensões capitaneadas pela adicção de um e sobre e – sejam os mercados, nas suas variadas segmentações, sejam as instituições (escolas, clínicas, espaços de saúde e saber com tratamentos os mais sofisticados, sustentados por discursos da sexologia) existentes por conta da afirmação do prazer. Ao infinito projetado por uma miríade de espelhos-fantasmas reveladores da reiteração de imagens hedonistas prévias, sem que se suprima o andamento de controle/consumo sobre os fluxos desejantes.
Parece não haver estado final e absoluto na trajetória das sexualidades através do que é torrencial e não se dá como simples corrente: entre muitos, cada vez mais diferentes outros em composição/contágio das mutações presentes (relacionais sempre, inexistindo, portanto, a defesa de um único front, em segmentação, como horizonte/vir-a-ser, dentro de um entendimento unilateral quando a implosão da ideia monolítica de sexo está em pauta e processo). Principalmente, quando a diversidade das orientações produz trocas entre si (transformam-se ao mesmo tempo, a despeito dos sinais a início de violência/resistência). Estão concebidas pelo andamento da transversalidade andrógina que funda cada/todo um em sua busca experimental, incessante.
Vida/história/conhecimento/acontecimento criam um verdadeiro cosmorama (há algo aí de fascínio natural e espetacular, a um só tempo) de instintos/impulsos/seduções/mediações, compreensível como campo-de-provas por onde séries e signos se apresentam inseparáveis dos apelos do desejo. Campo-de-provas em que se converte sempre o campo-de-forças – No sentido nietzscheano, relido na atualidade por Avital Ronell, apontando para contextos/quadraturas de poder/saber/controle nos quais se testificam e se tecnificam (por obra de disciplinarização e ordenamentos sistêmicos) as variadas/variáveis formas de existência e conhecimento. De tal modo que não há domínio/discurso imune a tal inserção político-epistêmica de transcurso/atravessamento, referente a qualquer desempenho/exercício de vida, no espaço/esquadrinhamento de um campo em exame/exposição. Tudo o que estria e também transvasa como experiência simultânea de prova e potência em interminável passagem.
Ivan Ivana e a(o)s outra(o)s
À maneira de súmula, poderia ser dito que assistimos no cotidiano de agora, em extensão à tela teledramática, as sexualidades em estado sempre nascente por conta da feminização do mundo (como conceituou Lacan o desejo na cultura, se alastrando para formações incisivas, pontuais, refiguradas na contemporaneidade por Avital Ronell e Ernesto Sinatra, em dois lados do continente americano).
Um contexto tornado alterno sob o signo feminizante – após demissão da soberania do pater famílias – tensiona-se entre conquista e captura. Os sinais legíveis/legitimáveis, envolvendo o queer/querer em alternância e fusão na Nova Novela das Nove, exibe simultaneamente uma quadratura da história das sexualidades em eclosão no nosso presente e o excesso de uma composição/combinatória dotada da sensibilidade de extravasar o componente queer como inapartável dos elos entre os diversificados modos de querer.
O constructo do continuum consolidado pelo grid programático da TV Nacional, por obra de uma sequencialização de fatos/fábulas intercalados a percorrer toda a faixa horária do dia/noite do tempo humano, reserva esse baralhamento de planos que a Novela no pico da audiência – meio da noite/retorno, recesso dos espectadores entre trabalho/lazer – produz, principalmente pelas mãos de Glória Perez. Em especial, quando percebemos que a telenovelista é uma experimentada condutora de um verdadeiro Parque Temático (em suas vertentes/variantes do verdadeiro), munido de impacto (por ordem de verismo/visualização) e poder de introspecção (em compasso com a recepção espectadora). Ao andamento intercambiante de estriamento e deslizamento das subjetividades, tomando em primeiro plano as derivações do queer com focagem na transição/transformação de gênero.
Interesssante se mostra seguir – “acompanhar a Novela”, como se fala popularmente (até o chiste de caminhão legendar “Não me acompanha que eu não sou Novela”) – a capacidade de A Força do Querer realizar a passagem de fluxos do desejo em tal pulsação mista de fluidez e configuração temática.
Conta, em seu empreendimento narrativo ao longo dos meses de uma transmissão diária, com a afirmação de instinto – plataforma das manifestações transgender/travestis e daquela relacionada ao híbrido Garota do litoral Norte/Sereia de Entretenimento-Empreendimento Aquário Natural no Centro-Sul do País – na organização de montagem/mostragem de um conjunto de ficções paralelas, tornadas coesas, coevas. Trânsitos geográficos em uma mesma nação, imprimindo modos de ser entendidos por um hibridismo irresolvível entre sereia/mulher (Ritinha por Isis Valverde) – gênese lendária por fecundação do boto amazônico – possibilitam um jogo, que ganha contorno de tema/questão como se materializa no personagem Silvana (Lília Cabral). Temos aí uma compulsiva Jogadora (a TV redesenha os personagens conceituais da Literatura) possuída pelo frenesi que dissolve pouco a pouco – na noite após noite de suas fugas para mesas de aposta – a fortuna familiar do grande empresário, que é seu marido, dilapidado gradativamente em seu obsessivo, monolítico, projeto de homo economicus.

Em meio à fábula da transição-gender, destaca-se Bibi – inspirada na história real de Fabiana Escobar, a Perigosa, a Baronesa do Pó –, uma jovem abismada nas promessas de ascensão social através da formação em Direito, atraída pouco a pouco pelo ganho (tão rápido quanto volátil) que favorece o narcotráfico, a ponto de comandá-lo em um morro na vizinhança de sua casa classe-média como líder inteligente, plena de estratégia e estonteante sensualidade (personagem e atriz obtêm uma espécie de auge da mulher na TV, criando um marco para Juliana Paes, numa impressionante voltagem/voragem de atuação). Por outro lado – em um extremo preciso -, intervém Jeiza (Paolla Oliveira), major da PM do Rio, faixa preta de jiu jitsu e lutadora de MMA. Perseguidora do tráfico, ela age contra a rota tomada por Bibi, desde que o marido desta se enveredou no narconegócio, demonstrando dureza, postura aguerrida nas posições profissionais e afetivas, no mesmo movimento em que insufla passionalidade na vivência de suas paixões heterossexuais.
Os personagens de Perez – não apenas os femininos, frise-se, quando se observam as gradações emocionais de Zeca e Rui, através de um elo que os liga desde a infância pelo fator do impulso/instinto (uma aventura pelas águas do Norte), chegando-se até Eugenio, em sua forma passiva de ser/viver/erotizar – agem sob influência (lembrando-se o filme-chave de Cassavetes com a impactante Gena Rowlands) da “força do querer”. Algo que ocorre no interior da configuração queer desenhada pelo conjunto da Novela, inseminadora de uma redistribuição de papeis e atributos às outras sexualidades, em correlação de planos/plataformas temáticas em mútuo contato/contágio. Uma afetivação generalizada toma o espaço do melô telenovelesco sob um traçado decorrente de feminização e homoerotização. Importa pôr em foco – à altura dos olhos espectadores – a potência metamórfica (tendo as mutações trans/cross como balizas) a enlaçar mulheres e homens da trama.
A Força do Querer é tudo – é isso e mais: um componente se acresce sob a ordem do dia tornado Noite da Novela que (se) segue. Agrega temas e pontos de confluência nos muitos núcleos em que se constitui para se emendar em mais outra novela (Novela/Narração é o que está sempre por vir). Um desenrolar de ficções, combinadas ao stream dos fatos vindos de telejornal (notícias, reportagens-espetáculos, incursões e maratonas desdobradas dos globais jornalismos) em uma continuada transmissão de imagens, viabiliza esse formato de ambivalência irresolvível –
Transição (dos afetos em seres/sexos, do psiquismo ante a realidade mediatizada), tráfico (de informação/poder/economia transnacional), tráfego (deambulação dos nômades do mundo globalizado, em trocas das mais altas às mais mendicantes esferas de desabrigo/ilegalidade) – não ao acaso, Ivana/Ivan e Nonato/Elis Miranda fazem trânsito pelas ruas à noite quando se debatem no impasse da afirmação trans/travestimento (chegam até mesmo se encontrar, num congraçamento, quando confrontados pela agressão dos passantes em face de suas posições hibridizadas, em desfile ao ar do tempo presente).
Justo, em um momento histórico tão conflitivo e denso como o de agora, desvirtuado para ordenações retroativas, descartadas do compromisso com a vida social sob orbitação do mesmo quadro econômico monovalente, corroborado por um processo incontornável de implosão apesar dos ditames de “tomada de poder” –, a Novela em curso se desenvolve pela marcação do termo trans a perpassar muitas trajetórias sem recusa do cruzamento cognitivo proposto por Guattari. Vivamente se mostra a impossibilidade de conter limites – do ganho da família Garcia tornado matéria do jogo vicioso de Silvana, assim como o que toca ao regional/local de nossa geografia – o Pará das dimensões míticas populares no seio/centro do País (Parazinho se instala nas formas cariocas de ser multicultural, em consonância com o ethos da mundialidade, sem restrição a qualquer regionalismo de capital litorânea rodeada de favelas e miragens postcards).
Quanto mais tematiza e, no mesmo instante, faz deslizar sua condição serializada – em um nítido diagrama de dia/noite projetado em teias do continuum fictivo/factual discorrido em telas televisivas –, A Força do Querer guarda a aporia de expor o fio fabular como dado inerente à factualidade de uma postura política, vitalista, no interior do mundo-imagem.
Uma intrincada relação de signos acaba por revelar noite a noite a via do querer – numa atualização gritante das políticas do desejo em contrapolo ao império audiovisual de notícias que nos rege na mesma extensão de estriamento e captura na qual a Rede, o Globo, exercem sobre um mesmo segmento/seguimento de ficções (por onde assistimos à História que passa). Quer dizer, a força do queer. Em um campo-de-forças
Mauricio Salles Vasconcelos
Referências Bibliográficas:
DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. O Anti-Édipo. Trad. Luiz. B.Orlandi. São Paulo: 34, 2010.
PRECIADO, Beatriz. Manifesto contrassexual. Trad. Maria Paula Gurgel Ribeiro. São Paulo: n-1, 2014.
SINATRA, Ernesto. @s nov@s adit@s: a implosão do gênero na feminização do mundo. Trad. Flávia Cera. Florianópolis: Editora Cultura e Barbárie, 2013.
ROMANCE E MÚSICA – RADIÂNCIA ALIEN

Tiago Cfer
Se o romance moderno enquadra-se numa antropologia do indivíduo, dentro de um projeto em que sujeitos observam e refletem o mundo na medida em que engendram um jogo proposicional, o romance contemporâneo tem seu início ao se dissociar dessa tradição. Visível se mostra o corte com uma trama autorreferente cujo enredo consiste na disputa interminável pela representação universal.
O que se passa entre a egologia moderna e a dispersão contemporânea? Entre uma trama bem amarrada, em sua pretensa onisciência, e uma trama sem amarração, contingencialmente amnésica? Que espaço é esse, entreaberto por aquele que escreve e através do qual não cessa de ser revelada uma experiência exorbitante, desatada de todo pacto prévio mantenedor de uma ordem de leitura e escrita reconhecíveis?
No terceiro romance de Mauricio Salles Vasconcelos, Meu Rádio (Coletivo animal) (São Paulo: Lumme, 2016), a narrativa incursiona pelo espaço da música: “Depois que a música termina, continuamos a perceber o que passamos a chamar de alegria tribal trazida pela banda” (p. 11). A escrita desprende-se de uma ontologia da visualidade e passa para o plano ondulatório da sonoridade, operando, nos termos de Derrida, uma manobra textual que demonstra certa transformação do logos (a racionalidade) em loxôs (a obliquidade), do entendimento em escuta.
A vida dos personagens é apresentada em três capítulos num trânsito contíguo à recepção e retransmissão em rede, através de iPods e aparelhos celulares, do som da banda Animal Collective. No primeiro, “Sha La La”, Ciço, ao lado da companheira com quem vive em São Paulo, Bembe, desenvolve uma tese sobre a música dos mundos: Compactos – Música e Caminhada. Num assombro repercussivo (tudo está acontecendo bem agora) de Salve-se quem puder (a vida), J-Luc Godard, o personagem munido de lápis anota tudo o que vai passando: “… rumor de guerras/mundos concomitantes em um só instante-conflito-contato (…) Como se fosse o princípio de um outro tempo” (p. 47).
Em “Mato Alto” (2º capítulo), Rami, um garoto que cresce isolado no quarto de uma casa dividida com o pai (Sacramento) numa periferia de Cuiabá, encontra-se na voragem de uma vida em transição. Apelidado Mestre da Música pelos moradores do bairro, desde a gaita, instrumento tocado na solidão da infância, até a música eletrônica que hoje lhe dá o prestígio de jovem crítico, o rapaz vem se lançando para fora dali. Ele e Mariô, garota que “está na dele” pelo toque da gaita, confluem num projeto de banda que ressoa de uma canção do Animal Collective, “My girls”: “Eu só quero uma casa”. Em meio à rota de tráfico neste subúrbio do centro-oeste brasileiro, as biografias de Rami e Mariô se cruzam sob o signo da música.
No terceiro capítulo, “Festival”, a relação amorosa entre Íris e Gaela se desmancha durante o Festival da Música do Mundo. Vindas da Área de Comunicação, elas realizam uma “cobertura” da performance de Animal Collective. Enquanto Íris atua na TV, Gaela faz transmissões e registros online num aparelho celular para seu blog em construção, Flama (não é Fama). Numa celebração musical em tom de iminência, tudo, ao ar livre de Meu rádio, sugere uma mutação em curso (do espaço-tempo territorial, do próprio livro): “A nação (um conglomerado de ouvintes, apreendidos antes na distância) vai sendo entendida como pista” (p. 127).
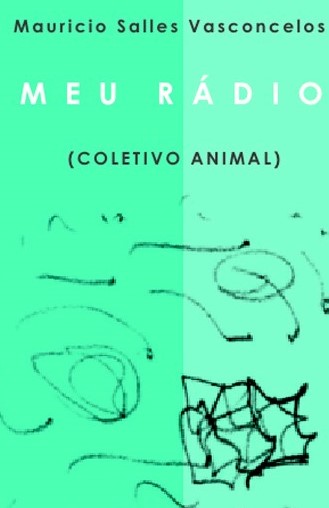
O teórico Jean Bessière, em seu livro O romance contemporâneo ou a problematicidade do mundo, diz que o romance de agora tem uma função de mediação, e que sua evidência consiste em apresentar a transitividade social enquanto figura sua própria transição, doando-se como objeto de mediação. Neste nó representacional (jogo de percepções temporais e emergências biográficas) é que o romance tocaria a contemporaneidade.
Em Meu rádio (Coletivo animal), MSV incorpora à escrita romanesca uma humanidade entre máquinas, em caminhada embalada pela “música do mundo” – do walkman ao iPod. Justo num momento em que a radiofonia parece estar fora de cena, e a transmissão da música se transforma com os dispositivos móveis que armazenam dados download, o autor confere um novo efeito radiofônico à narrativa. Põe-se a captar música (vinda de tecnologias sonoras) e guerra (de corpos, tráficos, do poder econômico em todos os setores e formas de vida) numa profusão de mundos, no sentido de que essas máquinas difusoras de imagem e som instalam um tempo de suspeição, o sempre urgente agora, canal tanto para o terror quanto para uma transformação inédita da realidade.
A leitura deste romance pode ainda ressaltar que o animal ali emergente tem a ver com o ciborgue de Donna J. Haraway, uma vez que “ser homem ou mulher não existe mais em música” (em sintonia com as proposições de Deleuze e Guattari, em Mil Platôs).
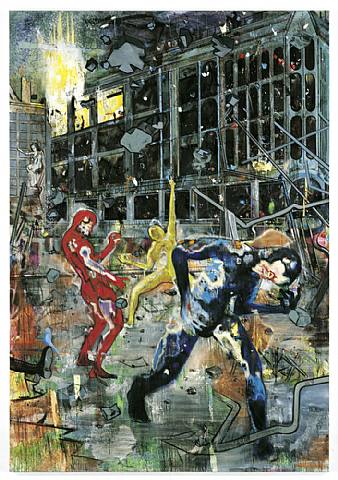
O que pulsa em Meu rádio – feito uma nota atrativa, um intervalo dissonante – chama atenção para o arrebatamento e a deriva da escuta. Um escrever/filosofar de corpo perdido, tal como enuncia Derrida em Margens da Filosofia. Ação da escrita e do pensamento que consiste numa alteridade qualitativa, num devir-música. Ou a sinalização de uma gênese extraterritorial do romance (esfera alien) de agora, entre maquinismos e multidões do planeta, capaz de apontar para um coletivo humano e não-humano em descoberta, em expansão:
Alien – é o modo de recepcionar espaço/tempo/terra
Órbita que a própria música faz gravitar em sua emissão
Incompleta, infinita” (p. 151)
Tiago Cfer é doutorando em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa. Traduziu o ensaio Literatura de esquerda, do escritor argentino Damián Tabarovsky (lançado em maio deste ano pela Editora Relicário).
Imagem: Die Idealist (2002), pintura do artista alemão Daniel Richter.
Última Lírica Urgente (Por Fernando Naporano)

Última Lírica Urgente (Por Fernando Naporano)
Mauricio Salles Vasconcelos
Águas, pássaros, círios abstratos – Um lance de poesia, como poderia formular Charles Bernstein, em sua muito recente reunião ensaística, A Pitch of Poetry (publicada no ano passado em Nova York) – Os livros que Fernando Naporano produziu entre 20014 (A agonia dos pássaros) e 2017 (A convergência das águas, lançado em março pela Editora Poética, Lisboa) encontra, entre a estranheza e a ressurgência de muitos topoi e tropos da dicção do poético, um modo renovado de escrita pela intensificação de um veio ultralírico – o que quer dizer último e, simultaneamente, urgente (vindo de um instante único, de agora).
Pássaros, águas, “teatro dos restos”. O autor paulista rearticula o lirismo em encruzilhadas surpreendentes sempre, depois da estilização parodístico-citacional do pós-moderno que o situa numa condição contemporânea de escrita, no mesmo gesto em que vai dialogar com tradições remotas – barrocas, simbolistas e mesmo aquelas perdidas em fontes imemoriais de instantes consagrados por imagem e entoação de canto (desde que a poesia na Grécia muda de estatuto e se faz musicalmente convocadora das divindades sob influxo do corpo, das sensações). Fontes medievas também ecoam em módulos repentinos de canções, recepcionadas certamente em sintonia com o interesse grande que nutre Naporano pela poesia portuguesa em todas as suas variantes de tempo e enunciação. Ainda que ele faça especial menção – e seja perceptível em seus versos – a nomes impressivos a partir dos anos 1950 em Portugal (Mário Cesariny de Vasconcelos, Carlos Eurico da Costa, Pedro Oom, António Maria Lisboa, referidos por ele, entre outros poucos lidos no Brasil)
Interessante é deixar viva a procedência pop do cantor/letrista da banda Maria Angélica Não Mora Mais Aqui (cultuada nos 80, difundida internacionalmente por força de seu composto de psicodelia e vibrante concepção poemática). Mais interessante se torna perceber que tal dimensão mediática possibilitou a FN um ingresso em um campo escritural específico, propiciado pelo livro-de-poesia, com um sentido tradutório nada linear por parte de quem atuou no espaço espetacular. Algo realizado para além do foco de um tipo de estética muito particular, o que se restringiria a um sentido de letra-de-música característico, com contornos conhecidos – circunscritos a certas temáticas, a posturas/procedimentos iconográficos e cênicos, numa modulação inseparável do “som da banda”.
Intrigante se revela, justamente, o senso preciso e ampliado no trato da matéria escrita no âmbito do livro, da lírica, linha sobre linha.
Ai, pis, quantos, prantos
inumeráveis dicções
assomados pensamentos
nasceram
desta pedra
deste meu permanente
ascendente, veemente
olharesgrima à pedra (Naporano, 2014: 60-61)
A agonia dos pássaros traz, na estreia do poeta, outra musicalidade – conjugada por afiada convivência com um vasto repertório de escrita paralelamente à escuta das sonoridades eletrônicas e enunciativas da new music há muitas décadas. E, também, outra imagem – depois das incursões pelo estroboscópico/délico pop universe.
Em outra via, há um dimensionamento do imagético, indissociável da formação de um autor pelas muitas esferas de mediação que regem vida/arte/cultura desde o século XX. Século intensificadamente plugado nos sistemas de informação, até sua travessia milenar, que consolida nosso agora numa civilização tecno, sem perda, entretanto, do lugar reconfigurado, renascente, reservado, sem cessar, a palavra/livro/linha poética.
Através de uma mobilizante mescla com vários fronts da hipermodernidade – do âmbito electro/acústico à sua atuação como crítico de cinema (do audiovisual em todas as suas acepções atuais) -, um toque deliberadamente antigo se torna flagrante – advindo da receptividade a uma tradição aberta a várias acepções da poiesis literária -, tornando-se mais e mais extemporâneo, exorbitado do relevo/timbre/tag do que é meramente epocal, sem recair, contudo, em qualquer especie de cultismo, de reverência classicizante. Muito ao contrário. Justo, o contrassenso aqui avulta, sensorial voltagem da potência de poeta e poesia em nosso contexto veloz de fruição e modelação de gosto.
Em tal compasso, tão heterodoxo quanto imantador, Naporano cria um elo renovado com diferentes referências de escrita. E, no caso, de um projeto poético, as dimensões de pensamento, sonoridade e imagismo definidoras de uma arte precisa, autônoma no seu modo de compor (desde as proposições ressonantes, essenciais, concebidas por Pound), obtêm formulações inesperadas, tamanhos são os planos cruzados capazes de jogar com o espaço/tempo (da ressonância íntima de algo conhecido como lírico, num sentido vivo de proveniência e revivência). Assim como conseguem se redesenhar domínios de linguagem e regimes de signos os mais diversificados sob o influxo de instigantes acentos rítmicos/construtivos.
Atravessei as máximas possibilidades do silêncio,
reentrâncias áridas que desconheciam o teor do pulso,
a posse do tato, o tao, a pose da vida.
Fiquei assim: imune ao mundo imundo
com um olhar caligráfico dissipado de todo o passado,
o formalismo lírico, pisado feito trapo. (Naporano, 2017: 106)
Curiosamente, o trânsito por temporalidades remotas toca fundo a poesia desse agora. Ao avesso de qualquer imobilismo, revival ou cultismo, dá-se o enfrentamento com o “passado puro”, a “memória imemorial” (tal como Deleuze faz vibrar até o momento o lastro bergsoniano do pensamento-tempo). Tal postura explica, também, o sentido mais pulsante de cada ser em trajeto/em linguagem na recriação dos vetores intermitentes incapazes de paralisar uma intensidade sempre virtual, no contrafluxo da síntese do bom senso (súmula do tempo).
A aproximação feita com Novalis, em Diferença e repetição, se revela bem engrenada com a dinâmica da ultralírica em Naporano. Trata-se de um estado “da diferença infinitamente desdobrada, ressoando indefinidamente”. (Deleuze, 1988: 356).
É a disparidade que torna o infinito a força declinada/dobrada formadora do poético. Para lá de qualquer ajuste consensual a uma disposição ordenadora, o que aparece toma o plano, o palco da agonística verbal – o fator-imagem tão decisivo para Fernando Naporano, numa extração ultrassensível do romantismo radical de Novalis quando faz emergir a turmalina como peça pensante, propiciadora do movimento revolto da palavra na poesia, em desarmonia com o retórico, o simples protocolo da forma (gênero e estilo referenciais da disciplina Literatura). Assim como a flor azul de Novalis, em sua desconcertante narrativa Henri D’Ofterdingen, cria um indício interminado entre real e revelação pela escrita.
“A disparidade, isto é, a diferença ou a intensidade (diferença de intensidade) é a razão suficiente do fenômeno, a condição daquilo que aparece” (Deleuze, Ibid.)
Desponta a pauta poética como spatium – plano não-coincidente, nada coeso, de tempo-espaço – de emergências.
A imediaticidade das sensações – “nada mais eram que a saudade/a jazer em Jackson Pollock,/vítima borrada,/carmim-cinzel abstrato/de todas as futuras manhãs” (Naporano, 2014: 48) – requer incisão para captura da vertigem do tempo posto sempre fora do eixo (o hamletiano time out of joint), vindo de todos os quadrantes/quadrículas de passagem e duração.
Não ao acaso, a imagem “ao longo do cipreste ininterrupto” (Ibid., 38) fornece a ponta insidiosa do lirismo díspar – último ultra tornando-se urgente. A emergência do que se passou instila a indagação: o que está se passando? Um plano-poema linha sobre linha montado a partir de um dínamo pataquérico, como propõe Charles Bernstein, num ensaio nuclear de seu A Pitch of Poetry – “Imaginação Pataquérica”.
Ao derivar a patafísica de Jarry em estado disseminante, infestador do excedente de criação proveniente da combinatória incessante entre a tradição e o imediato, através de um inviolável pacto com o presente, Bernstein acentua o traço tardio, multiplamente exquisite, propiciador da poesia que é só de agora. A proveniência latina da modernidade – modernus – bem exige, como pensa Jauss, leitor agudo de Baudelaire, a incorporação da hora única que passa, do que há de mais efêmero para existência de uma escrita com senso de historicidade, ou seja, do potencial de descontinuidade em relação ao incorporado à tradição. Tudo o que impõe absorção e contraefetuação do legado/recepção de um repertório por obra de uma irrefutável (não dada, inacabada) condição de agoridade.
De tal amálgama, precisamente, são compostos os livros de Fernando Naporano, nos quais vibram um imagismo maximal, contíguo à música extremada com que são reinventados lirismo e livro de poesia no auge da mais alta tecnologia. O choque da disparidade se instala, então, no declinado solo de palavras como arrebol, anil, lourejante, diamantífero, cinzel, entre inúmeras outras conjugadas em um dispositivo de lirismo intensamente dobrado sobre o antique e o intempestivo toque de um montador/mixeur multimidia.
Imagine Imagem – Situe o Som. O abstrato da poesia é viral – Pharmakon. O Afeto, como em Blake, decorre como estratégia e esgrima do supercomposto, hiperposto (mais que sobreposto) lugar da poesia depois de tanto tempo – depois dos propagados fins do livro e da arte – como arena/área viva de insurgências.
Sem temor da coda afectual dobrada a cada linha – construto concebido/conceituado de afflatus/imago – por pulsação extravagada o mais novo vem da ganga de imediaticidade, nunca desfeita do tom impessoal de uma construção poética, feita para ser visiva. Um ato movido por uma imagética em seu senso performativo de ato, de cena – sob o signo da aparição, do surgimento disparatado, insuflador de sentido/síntese nunca encerrados – antes experimentado em letras e cantos de música por Fernando Naporano, desbravado agora como a questão mais urgente do poético, por meio da acentuação exacerbada do lirismo.
Através/em travessia de sua marca ultralírica – pássaros, águas, entre os dados da coerência e da agonia (como se leem nos títulos dos dois livros de FN) -, tornada ponto de urgência, da mais pontual incisão no tempo.
“Nestas memórias em chamas/tua infância arde, criança-sabre” (Ibid., 44).
Fotografia de Fernando Naporano
Por Melanie Havens
O recém-lançado livro A coerência das águas, de Fernando Naporano, está disponível no site da Poética Edições, através do link
http://poetica-livros.com/loja/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=452
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
BERNSTEIN, Charles. A Pitch of Poetry. Chicago: The University of Chicago Press, 2016.
DELEUZE, Gilles. Diferença e repetição. Trad. Luiz Orlandi e Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1988.
JAUSS, Hans Robert. “Modernity and Literary Tradition”. In Critical Inquiry. Vol. 31, No. 2 (Winter 2005), pp. 329-364.
NAPORANO, Fernando. A agonia dos pássaros. São Paulo: Demônio Negro, 2014.
______________. A coerência das águas. Lisboa: Poética, 2017.
Poema ON THE ROLL (integrante da Récita Beat, evento paralelo à Mostra de Cinema BEAT, CCBB SÃO PAULO janeiro 2017)
ROLL
Mauricio Salles Vasconcelos
Rubrica – CANTAR “Girassol – Um sutra – Um
Parque de diversões da mente
Roda-Gigante de um eu bem pequeno”
(Até que o poema ganhe corpo no poeta-performer-
Guia-Autor da Gira)
“Gira Agora Sol
Não-Eu De Repente”
Caminhante ao longo do tempo
Injeto todas e apareço na dita vida
Cada vez mais real – a pulsar
Dentro de um contorno saturado
Demasiadamente depois do humano – Um – humanista
Lá estou on the roll, mais do que na estrada,
O giro nada mais cede:
Eu ou um carregamento de coisas
Nas costas (Delírio para surgir
De vez nessa mesma vida
Entrecortada pelo nonsense história fim de ciclos
Beatniks sob ressurgências sem nome)
À volta de Tristessas foxes belezas
Do corpo sempre mais à frente
Da datação, em abismo: a linha do tempo
Costura sua moral alucinada
Ao ritmo do ar que se respira
Naturalmente dentro do redemunho
Tudo que antecede cada um e zera
A projeção de qualquer futuro
ON THE ROLL
– Um desnorteio de origem assumido como urgência pessoal
Mesmo por conta de guerras, abrigos ultratecnos
Like Corso – o mais simples respiro de fora para dentro –
Até se encontrar em um ponto interior, posto de gasolina
Perdido na distância/Panorama vestal varrido
Da Ideal Grécia, da Amerika High-Tech cisco por cisco
Em caso de perda dos dentes se for: a poesia escoa
Conta relatos radicais beatrices dos sexos preciados, nascentes
Bocas-sem-dentes até o encontro de seu fim
Like in Corso’s poem: “morrerei dentro de um canto”
Mesmo que as bocas-sem-dente da nascença toquem
O fecho/extremo de gente e tempo (sem nenhum dente
Apenas a fonte a força que cantam)
Guerra Química Farmaco Tecnologia Móbile –
Por exemplo, o reincidente automóvel/rodovia
In continuum e corpos
Como este até agora em avalanche
Rodeio no redemoinho
Bem leve, bem a mais
Só de tragar o símbolo (uma caveira
Piercing na ponta das línguas)
Todas as épocas num compacto – Girassol
Um Sutra, um Parque de Diversões na Cabeça –
Desafio à essência a um lugar sol-posto – Aditivo
Sempre sinuoso modo de chegar até aqui
VIDA quer dizer idade
Enquanto faz rol
Queremos dizer e então somos: Roll
IDA = VIDA sempre por surgir
Só fumando um unzinho
Só se gastando e gostando da vida inteira que se dá
Apenas Através de um sozinho
De alguém bem real
Solitário à procura de seus desconhecidos
Numa única vida
De um jeito sempre single
Uma canção e um decreto em descoberta
Passar
Pela rolagem mais violenta – internamentos inquéritos milícias
Delirar em cima do morro onde se maloca o entorpecente
Em orbitação sideral – Pertencemos portanto ao Globo
Mundializado, mera transfusão do lucro em falso
Surgido feito delírio intransferível
Em divisa da pedra pílula cristal nota de 100 Real entre moradores
Da Favela dos Desejos
Fazer viagem da cabeça
Aos pés
Em percurso dentro de si mesmo
Bem capaz – com toda surpresa –
DE traçar mapas
Imediatamente visíveis
Épocas são cruzadas
O que se entendia como bem antes – ancestral, medievo, perdido de tão
Remoto e jamais finito –
– Escancare este ácido tabu tatuagem
Já entrei na minha pele –
O que antes eram cruzadas
Agora faz um ponto-cruz
Chamam-se épocas: lugares
Impossíveis do Planeta
Capitais e periferias
Em busca de só um
Porque alguém se põe a pé
– Meditação e tráfico
Migração Tópica
Unzinho
Na face revolta, pura crosta
De erva: superfície-toda terra
IDADE – quer dizer
Vida (Aquela a transcorrer
Em “você”, coletiva clandestina, sim, só agora)
A vida toda de qualquer momento sempre
A continuar toda sua e
Alheia
Idade – Ideia
Não está na mente
Quer dizer vida a ser raptada
No delírio, no tráfego oculto da droga,
A mais aleatória, absoluta
A ser expelida até o fim
Desse um – para além dele
Dela, soberana sobra humanóide
Em representação de seu pronto extravio
(Um vazio um do humanista marco original
Em nome do um
Vagante até o próximo encontro no ponto
De sempre da Drugstore)
Idade – Ideia – Uma só ida sem volta
(Uma espécie de transporte,
Trainspotting imóvel em volta da mobília
De um quarto apenas para um
Na roda das rochas cascatas do real
Onde todos querem entrar ao mesmo tempo
A Natureza é um empreendimento
Não se dá à mão, “acenda, então, a beata”
O pó de todo credo, paraíso a crédito)
A era beat acabou, meu bem,
Acabou toda classificação em Eras
CUT-UP PLEASE THIS information
And zoom it
Em meu corpo esfomeado de gente e mais um
Um só a mais pela última promessa primeira vez do vício
Imanente à vida: O mais traficado interdito
VIDA quer significar IDADE
Conta de menos e Cume
(Do deambulatório, carregado no corpo
De cada um, carga e débito sem pagamento
De todo tempo da espécie
Já rolada antes e ainda em ação
Sabe-se não
DO AMBITO DA IDA) – IDADE igual a VIDA
Da esfera do transcorrido
E seu curso não-dado
Nunca findo
Só picando a pele –
EXPEDIÇÃO À CABEÇA
SATELITE SEMPRE INVISÍVEL
GUERRAS DO CRACK e encantamentos nunca antes transpostos
Missão autônoma de risco segue o rastro do mais disperso
Astronauta com os pés no chão ainda indescoberto
Logo aqui à frente
Só para um – o feito só de um só na bagagem bagaço do DESMEDIDO HUMANO Só se for
“Unzinho”
Desde a batida beat
Desde a última silhueta de alguém vivo
Estrada adentro sempre pelo meio
Insemino todas (as coisas líquidas, soltas no ar, duras na fonte)
Só mais um, eu, (quero) “unzinho”:
“A vida tomada numa talagada”
Refs. Inserts/
Kerouac/Corso/Beatriz, Paul Preciado/Monte Hellman/
Conrad/Irvine Welsh/Ferlinghetti/Céline/Avital Ronell/W.S.B
Ginsberg/Pynchon
Dante
POTÊNCIA DA POESIA/PATERSON, DE JARMUSCH
Mauricio Salles Vasconcelos
ContrAnotação do Calendário Hegemônico 2016 –
Até tocar o nada – o que move as palavras para que estejam em um corpo vivo à prova de todas as fronteiras e suas desaparições produtivas. Paterson, de Jim Jarmusch, contra-anotação do brutal calendário 2016.
Se antes, o cineasta podia estilizar o minimalismo com o toque jovem de quem retomava o pop entre a new-wave anos 1980, na tacada pós-punk de uma época transculturalizada – tudo o que se assistia em Stranger than Paradise (1984) sob a forma de um programa na era do fim dos manifestos (tese producente de Danto, pulsante até a hora de agora) – Paterson (2016) ressurge como um invento precisamente pelo que se dispersa, não tem cara de arte e “posição”, justamente quando mais vibra a incursão pelo toque, pelo timing da criação de poesia. E mais: a escrita no interior do cinema. A um ponto em que a face escritural indissociável do fazer-imagem se expande para a vitalização do cinema mesmo.
A partir da confluência entre o nome da pequena localidade (em New Jersey) e daquele do protagonista (um bus driver), que vem a ser o título de um clássico poético da modernidade – um épico da cotidianidade concebido por William Carlos Williams –, o filme de Jarmusch reengrena a trajetória de um cineasta até há pouco tempo em suspensão. Inegavelmente, um certo refluxo se fazia observar, não obstante os muitos acertos espaçados no tempo em que ele veio produzindo após o estouro com o longo citado de 1984 – a confirmação bem humorada do despojamento em Down By Law; o risco intrigante de Mistery Train; as bases da legenda americana a serviço de uma desbravação inicitática (no grande Dead Man) e algumas centelhas afectuais, comportamentais, não de todo impactantes em Broken Flowers.
Paterson pontilha os toques de um aprendizado pelo silêncio, pela perda – sob auxílio de um nítido repertório nipônico colhido entre o zen e a lírica ideogramática que o personagem-visitante da cidade de W.C. Williams acaba não apenas por ilustrar. Mas, também, está ali – aí – para guiar o protagonista e seus espectadores a um breve incurso pela poética norte-americana estendida em referências bem marcadas a Frank O’Hara (a ponto de inserir um exemplar de Lunch Poems na mínima bagagem que o motorista leva para o trabalho, entre o almoço e os objetos de sua escrita e estima, entre a caderneta-de-anotações e o retrato da mulher).
Uma extensão que chega à vida presente da poesia tal como entende os americanos, entre os mais ativos criadores do gênero nesse momento milenar nada avesso à “Poesia de Linguagem” em várias acepções, desde a Escola de Nova York aos compactos de vida/inquirição de pensamento trilhados por Lyn Hejinian, passando-se pela instigante formulação de sexualidade/mapeamento historiográfico pela via cotidiana trazida por diferentes autores como Wayne Koestenbaum e Felix Bernstein, entre os mais recentes. Em cima do nada, a poesia se revela atuante para o que extravasa a palavra, o espaço literário. Contagia o cinema feito de poucos elementos temáticos, a contrapelo da culturalização, dos esquemas engrenáveis na serialidade de um plot. A fiação se dá através do pequeno percurso diário de um motorista provinciano, a contar de conversas simples da casa às ruas, do retorno do trabalho ao bar de todas as noites.
Jarmusch acaba por incidir numa poética das artes agora ante a agenda da humanidade globalizada em 2016 por meio da “lógica do pior”, como pôde formular há algum tempo atrás Paul Virilio. Todo um temor sublinhado pelo filósofo tendo como horizonte a sistematização do compósito formado entre tecnologia e capital transnacionalizado.
A economia agora se paralisa para usufruto/usura (um poeta como Pound, de modo enviesado, se presentifica na constelação ensaiada pelo filme Paterson), em andamento dissolvente, autodestrutivo. É o que decorre da voltagem de lucro desestabilizadora de seu expansionismo mundializado, ao ponto de sacrificar a governança e o bem-estar das diferentes nacionalidades de um planeta em vários quadrantes geopolíticos submetidos à agonia de corrupção, crime, desassistência social, até o abandono de todo projeto comum/coletivo essencial ao crescimento de qualquer propósito sustentável de economia.
Nesse contexto, um título como Paterson gira em muitas direções de leitura e sensibilidade, numa curvatura de sutileza e poder intelectivo, orientada como ato de valorização do tão pequeno quanto potente universo localizado em uma cidade ao léu de tantos mundos. Valorizados ficam a imaginação e o poder de contemplar, dando-se ênfase ao que fica pelo caminho, para ressurgir em vibrante forma de entendimento . Algo que se mostra eletrizante pelo dado de se ocupar do que é mais vigoroso para a arte (poesia e cinema tomados como núcleos), favorecendo simultaneamente outra ética de viver o fio de tempo que escorre um dia após outro.
Tem-se, então, um modo de escrever, como também de ler/fazer arte, incitar vitalidade e pensamento, através de sinais reveladores colhidos de instante a instante, como se tratassem de nada e nascessem de um vazio sempre em reincidência. Ao mesmo tempo, signos e sinais se fazem traçar na superfície mais simples de quem vê, de fato, algo compreensível em toda sua extensão projetiva como cinema.
Da associação criada entre ser e linguagem, entre analogia e paradoxo, de todo evento em decurso e seu impasse no plano do conhecimento, da história de um corpo e o repertório trazidos por cada criatura, Paterson se estampa ao modo de um satori a ser depreendido como poema. Da mesma forma que a caligrafia do personagem Paterson preenche alguns momentos da tela em escrita.
A senha está na linha-movimento-evento do poema que ele elabora ao final do filme, após cruzar o limite da autonegação e do desaparecimento do livro/projeto de vida. Tornar-se o peixe do que surge como imagem em seu próprio escrito. Outra poesia se deflagra, então. A partir de si ao avesso do falso início da página em branca (uma vez que toda folha a ser preenchida já contém, como bem aponta Foucault em “Linguagem e Literatura” os ecos de tudo que já foi escrito e se alinha numa virtual biblioteca).
Escavar a contingência. Eis o que se plasma como um Mistery Bus dos transportes anti-informacionais percorridos pelo poeta nascente Paterson (da mesma terra que deu W.C. Williams), alguém que vive entre cruzamentos, nas encruzilhadas que a tecnocultura não cobre com seus dispositivos de presença/ubiquidade.
Tornar-se a isca de Clarice na captação do que emerge do rumor subjacente ao ato de escrever. Ou, senão, o aquário de Marianne Moore (de novo, a órbita dos séculos modernos e pós-modernos em língua inglesa). Quanto mais localizado, o dado matérico, formado de resíduos, abre trilhas sobre a aparência do que é off, do que seria contrário e perdido para a poesia. Uma sonda-ambiente desponta, pois. Cria um lugar – o aquário, quanto é mais vazada a paisagem/cachoeira na cidade de Paterson. Um modo de habitação, a partir do que se traduz fora das palavras para melhor integrar-se a elas. A poesia é a questão do que se é em ato. Faz-se onde/quando não teria mais sua potente razão de se dar em evidência.
APRENDER COM O ROCK

Mauricio Salles Vasconcelos
A poesia, segundo Octavio Paz em “A consagração do instante”, canta o ato de estar se fazendo (algo revelado em seu étimo, poiesis). Todos os seus temas e apelos evocativos/enunciativos se reportam a um autochamamento em processo rítmico/imagético/conceitual.
Já a música, especialmente aquela tocada pela vertente do rock (inseparável, em suas primícias, de disco/rádio/audiência massiva), celebra seu passar/sob o toque de uma modulação. Diz respeito ao movimento (eletrificado a um ponto máximo) radiado, encenado com toda a entourage de uma cena, para onde está indo. Tudo o que induz à fonte-de-escuta/recepção crescente e ao seu desaparecimento/ressurgimento na história (memória articulada enquanto canto) a contar de seus ouvintes (feito música de um tempo).
Música: o ato de um fazer concertado, em alta mediação.
A criação sonora se apresenta indesligável da produção (em tudo que contém técnica, administração/corporação) e da coletividade – outra forma de circuito/conjunção – que a acolhe, cultua. Até se tornar refrão básico de um corpo sob a audição metamorfoseada em comportamento, mecanismo melódico-mnemônico de uma época em passagem e retorno a cada vez que certas canções se executam. Principalmente, o que faz o rock.
Principalmente, pelo dado de incitar uma corporeidade desembalada. Ou como acentua Patti Smith, em seu legendário Horses, quando reacelerou o rock há mais de 40 anos, prenunciando o punk, a feminização da autoria band-leader e dos corpos-de-dança: música e cavalgada. (Este é um termo da teoria musical muito bem estudado por Pascale Criton quando aproxima o universo da sonoridade àquele da filosofia, tendo em mira algumas teses dos Mil Platôs deleuzo-guattarianos).
O ritornelo de toda música não subsiste sem o cume de desmesura acionada aos seus ritmos formadores – precipitação e profecia, muito bem inseridos na faixa-título do disco de estreia de Patti. Algo em alta voltagem, entre o revival da energia rocker colhida na negritude de Little Richard e na poética crescentemente desterrada de Arthur Rimbaud, referência inescapável das letras e da imagem celebrizada pela garota andrógina fotografada por Mapplethorpe na capa-ícone de Horses.
Courtney Barnett, jovem compositora australiana, munida de longos versos ao modo de Dylan e um senso agudo de comentário sobre a realidade presente, indissociável de seu conhecimento da fusão electro da música de agora e do poder de imagem da mulher no universo discográfico depois da streaming explosion, compreende agudamente o espaço de formação e emissão através do rock. Curioso é que o faça através de uma aporia capaz de lançar luz não apenas no circuito estrito de produção musical após a disseminação instantânea propiciada pela web (tudo o que pôs em risco a indústria de discos). Seu hit “Avant Gardener”, em 2013, deixa evidente a potência de aprendizado que toda criação de arte e linguagem encerra na contemporaneidade – intensificado no campo da sonoridade, modulável em seu abarcamento de voz e palavra poeticamente emitida. Justamente, o que diz a letra acerca da experiência e do experimentalismo trazidos com o jogo formado entre “avant-garde” e um trabalho de jardinagem (gardener) feito entre recolha residual e exercício premonitório.

Uma tarde na fruteira –
A MORTE DE CÉLIA OLGA BENVENUTTI

O CINEMA EM TRABALHO/A MORTE DE CÉLIA OLGA BENVENUTTI
Mauricio Salles Vasconcelos
Cinema e Invisibilidade – Estou em choque. Só se fala de seu nascimento. Ninguém sabe que ela morreu. ELA – Atriz criadora de uma imagem forte, permanente, do cinema nacional: LILIAN M- RELATÓRIO CONFIDENCIAL. Talvez, o melhor de Carlos Reichenbach. Um filme que abre trilhas no presente, fora ou dentro de uma sala cinemática. A vitalidade de um percurso feminino: do campo até à cidade, em suas variantes mais intensas de poder e sexo, até novo retorno rural. A bela Célia Olga conduzia um itinerário nascido de Vivre sa vie, de Godard, mas comunicável com Wanda, de Barbara Loden e, também, com o tocante Perdida, dirigido na mesma época, no Brasil, por Carlos Alberto Prates. A deriva no feminino. Uma época não é apenas uma época não é não nada senão palavra/mulher em mutação.
Só há pouco, Marcelo Ariel, que foi seu aluno de teatro e me apresentou a Célia Olga, comentou sobre a morte misteriosa da atriz em março último. Planejávamos um filme juntos (com a participação, também, de Ariel), em torno da leitura ininterrupta de um escrito de João Vário, admirável autor cabo-verdiano. A leitura de Célia Olga em minha casa (onde ainda pensamos em fazer o filme) deixou um lastro de talento e fôlego rítmico, com sua pontuação precisa, preocupada em nomear tantas referências no longo poema EXEMPLO COEVO.
Antes desse projeto em elaboração, pude homenagear o filme por ela protagonizado através da ficção criada em meu livro Moça em blazer xadrez (2013). Na narrativa “VHS” coloquei todo o foco em um personagem itinerante, sem moradia certa, sobrevivendo da função de vendedora em um sebo subterrâneo (recriado daquele existente até hoje entre Avenida Paulista e Rua da Consolação, com passagem em frente ao bar Riviera, reinaugurado há poucos anos depois de seu auge). A figura de Lilian M norteou o relato, centrado como os outros do livro em personagens femininos, colocados em trânsito no espaço megaurbano de São Paulo. Explicito tudo isso em “VHS”, saindo depois em busca da mulher do filme.
Estou abalado. A atriz me persegue para além do personagem. Continuarei de algum modo a registrar a imagem de Célia Olga Benvenutti. Isso, também, renomeia a ideia de cinema em um plano vital que a criação de arte tenta reinstalar. Não se sabe que ela morreu. Dr. Google só informa o ano de seu nascimento quando procuramos algum dado a mais. Uma forma-mulher faz um desenho no ar e na existência de quem a assistiu na tela ou ao vivo (na prévia de um filme). Quer dizer, na prévia mesmo da vida, nunca de todo preenchida, pronta para ter continuidade em outro campo de sentido. Off total – Célia Olga é ainda um filme em movimento.
SONIA BRASIL VINIL E O FIM-DO-MUNDO
Mauricio Salles Vasconcelos

Intimismo e Brasilidade –
O filme com Sonia Braga depois de muito tempo (décadas, já, de ausência na tela de um cinema e numa produção nacional) começa um pouco antes. No meu caso, através de lembranças súbitas da atriz que povoou minha passagem para a adolescência, a partir das fotos dela em Hair, divulgadas em revistas, sem que eu pudesse ainda vê-la no teatro por conta da idade. Até que se dá sua aparição lá pelo meio da telenovela Irmãos Coragem.
Ela entra na cena do video preto & branco do Brasil ditatorial, em seu auge (pós AI5), dizendo ao que veio. Nunca antes foram dados beijos iguais nos domínios da Globo. Os limites melôs do telesseriado deixam seu padrão para trás. Eu passo muito tempo com SB na cabeça (signo obsedante de mulher assim como de um país mais erotizado, comportamental, algo mais forte e promissor do que esse território “chapa branca” que habitamos). A deusa no corpo.
Até que, de repente, vejo suas fotos na abertura de Cannes 2016. A exibição de Aquarius propicia o reencontro com a atriz e a fomentação de um outro Brasil abalado pelo Golpe da Ordem contra o Partido dos Trabalhadores. Por mais que tal insígnia tenha passado fisiologicamente por populismo e corrupção – tudo o que exige punição – não torna potente o clamor classe-média-mediatizado do impeachment, quando nada há para repor de transformador em nosso horizonte. Muito ao contrário, o cerceamento mais brutal se instalou, celebrando o pior sob o comando de um dirigente-mantenedor do poder hegemônico, sem o menor espírito de partilha, nenhum projeto político-social para a Nação-Continente.
É Sonia B. quem centraliza a exibição das faixas que noticiam na França – com força mundial de repercussão – a instalação de um Golpe em nosso país, ao lado da equipe de Aquarius. O filme estreou no dia 1/9/2016 no Brasil. Um dia antes, nosso ícone de mulher exposta ao mundo – a formar par possante com Carmem Miranda – está na capa do Cahiers du Cinéma, de setembro, na edição que foi para as ruas europeias a 31 de agosto (o dia em que completei 60 anos). Tudo isso me toca.
Eu confesso que sonhei com essa capa na revista mais importante do mundo dedicada à produção cinematográfica (desde a década de 1950), lida por mim até hoje com paixão mês a mês. Sonia está no foco central da edição recém-lançada na companhia de outras fotos de atores (entre os quais Sandra Hüller, protagonista de Toni Erdmann, dirigido pela excelente realizadora alemã Maren Ade). Agora o cinema e sua revista mais completa dizem ao que vieram, tendo Sônia Braga não só na capa, mas em entrevista aos duradouros, sempre renovados, Cahiers. A ênfase recai – em reconfiguração da “política autoral”, vigente desde os anos 50 do último século – nos atores (de todas as partes do sistema-mundo-imagem, frise-se, sendo assim dada a capa/cara do tempo para fora do <em>glamour system</em> do rosto).
Estou sob o impacto da protagonista de Aquarius. O que foi visto na tela se torna mais vivo de um dia para o outro. Aliás, é bem de uma duração que trata o filme. Certamente, a de Clara, melômana, colecionadora de vinis, autora de livro sobre Villa-Lobos (a mulher sob influência de Aquarius/um prédio antigo à beira-mar visado pela especulação das construtoras), cada vez mais associada à história de uma atriz. História de um corpo extensivo aos de seus espectadores, ao fluxo de filmes e signos no feminino inerentes a um país.
O que pega em em Aquarius, depois de visto, passada uma noite (como me ocorre de ontem, na estreia nacional, ao bom sono/pensamento desta manhã na órbita das imagens ainda em curso)? Intimismo e brasilidade, volto a nomear. Brasil Vinil, sem que se descarte o streaming e nada das dicotomias que nos assolam. Cada vez mais som na roda: História de Sonia e seus espectadores sob o impacto na abertura e no fecho, com a execução de um esquecido Taiguara a inflamar a voz de uma época em “Hoje”. “A fossa, a fome, a flor, o fim do mundo”.
Apesar do sentido catártico que encerra seu final, em total acordo com este momento da vida brasileira, Aquarius ressoa mais do que o efeito-folhetim impresso na conclusão do superestimado O som ao redor. Se, em seu primeiro longa, o cineasta recorria ao fundamento oligárquico por meio do qual se explica o cerceamento de um condomínio no Recife, a expor uma trama em que toda força reflexiva se sedimenta em analogias sociológicas mais que conhecidas, Aquarius exibe a devastação da pedra fundamental dos edifícios econômicos e patrimoniais da Nação. Expurga as forças da morte que tentam tomar a existência de Clara, a única habitante de um prédio invadido em todas as formas de poder – inevitável se mostra o paralelo com o seminal Tudo Bem, de Jabor.
Diferentemente do plot montado na sobrevivência do coronelismo e do latifúndio sob o solo habitacional/vivencial do presente, o filme protagonizado por Sônia Braga lida com a voragem indiscriminada de forças que minam os impulsos vitais, os mais recônditos, disseminados em diferentes classes e personagens. Seu final abrupto, tomado pela recusa à morte como norma, se encontra em sintonia com o vitalismo da grande atriz – em compasso pleno com seu personagem -, que é também uma imagem poderosa do que de melhor tem o Brasil.
Impulso vital, final, colhido na crista, em combate aos cupins enraízados no projeto da construtora/detonadora do coletivo pulsante nacional. Tudo se encontra à roda de Sônia B., nessa volta – ao extremo dos sulcos dos vinis executados no apartamento/arquivo de Clara -, uma atriz capaz de uma alta (a mais afinada) interiorização, modulada com a potência de seu desnudamento. Vê-se sua vida toda imagem/linguagem (por onde sua figura se plasmou, ondulando-se por variações da tela norte-americana, sobretudo, desde a Hollywood de Eastwood/Redford até os seriados Cosby/Sex and The City).
O contato com Aquarius se faz inevitavelmente ligado a um encadeamento de relações capazes de contrariar a “lógica do pior reinante” hoje entre nós. Ao avesso de quem diz do fim-do-mundo como fechamento de horizonte, vibra a pulsação de outra política do humano como reinvenção da vida imediata.
Ou do corpo como matriz do que é transmutável e vibra por uma recusa crescente através dos menores segmentos e eventos. Como se capta por meio de Sônia Braga – felizmente, visível nas salas de todo o país e na capa dos Cadernos do Cinema Mundial. É o que ela faz repercutir, ao estreitar os elos entre AudioVisual e Imagem Global depois do Crack, do Trash Geopolítico das Comunidades em Consenso Eminentemente Econômico. Conta uma história subterrânea da duração através de fotogramas, cruzamentos de vida/arte. Quanto mais se expõe, mais potentemente interiorizada se apresenta nossa existência brasileira traduzida em cena de cinema sob o Signo de Sonia.
TeatroFonema
Mauricio Salles Vasconcelos

Ambiência Blanche. Cinema-Mudo (quer dizer, legendado) se acopla a Butoh (via K. Ohno, há décadas recepcionado pela cena de Antunes Filho). Cria outra extensão com o expressionismo das artes visuais/fílmicas revisto sob o rastro pós-punk disseminado pelas derivações de finitude e refiguração dos corpos/comportamentos, numa multidão de rostos inquietantemente atuais (desde o fim da modernidade e depois do “pós-moderno”, em outro século/milênio já).
A “tirada” – “fonemol” – concebida a partir da invenção de uma língua para enunciar A Streetcar Named Desire, de Tennessee Williams, vai ganhando consistência cena a cena (apresentadas em número de 9 como roteiro distribuído para os espectadores, uma vez que os diálogos são pirateados numa dublagem fake).
Desprovida do texto – transformado que é na emissão de um idioma inexistente, vertido em lugar da vocalização dramaticamente articulada -, a peça acaba por girar em torno do verbo “tirar” em todas suas variantes de extração, apropriação e violação (até ganhar os contornos mais físicos). O público traduz esse sentido extrapolador – contido pela proveniência do prefixo ex a lançar um jogo-fonema do teatro tomado pelo relevo dos gestos (à sombra da fala humana constituída em língua comunicável fora do espectro cênico).
Expropriação. Tirada. Tal como a “tira” de um comics reanimado com presenças vivas, híbrido de melodrama, a se estirar numa encenação ao nível do piso onde se encontram os espectadores (ao rés-do-chão, ao modo de um auditório instalável subitamente em qualquer lugar, uma irrupção imediata do fictivo no espaço de uma sala, no caso, o interior de um Edifício da Cultura, CPT/ SESC). Um não-palco largo, plano, estendido redistribui as rubricas do Bonde (Chamado) Desejo.
Em vez de seguir a retórica do drama – com um certo peso trazido pelas muito conhecidas figuras e alineas cênicas de T. Williams -, a plateia passa a acompanhar o deslizamento de um texto em estado de alteração até alcançar a mascarada capaz de liberar o impacto nervoso – entre a catarse e o patetismo – do que se dá em tempo presente. Algo oferecido apenas pela arte do instante, do acontecimento, que é o teatro. Porém, a pregnância, a instantaneidade da performance – corpos vivos potencializadores do ato – se efetivam de modo pleno a partir de algo explicitamente tradutório Não será toda leitura/encenação de um texto algo da ordem de uma dobragem, incidido no duplo, quer dizer seus desdobramentos de dublês, montado sobre uma condição plena e potentemente falsária de língua/linguagem?
Vibra o que há de dubladamente posto sobre os “efeitos de real” passíveis ainda de serem recolhidos pela crueza dramatúrgica do autor americano e de toda uma órbita estética vinda dos anos 1950, à volta do Actor’s Studio, no preciso contexto da América do Norte Pós-Guerra, no qual vicejava uma vitalismo teatral, em intercâmbio com o novo cinema àquela altura. O que se revela inseparável das atitudes desconcertantes, envolvendo subjetividades e estamentos geopolíticos, tendo as balizas da guerra em fronts renascentes – após a conflagração mundial que dividiu o século passado pelo meio – e a satelização planetária a modelar economia, modos de vida e produção, em época de grandes mutações culturais e históricas.
O cinema de Kazan/Brando, a música mundial do rádio – mix de latinidade e réstias nostálgicas hollywoodianas -, os telefones coloridos, passam como vestígios/indícios no Teatro Antunes Filho acrescido de seus mais recentes atores. Há um trio sensível e inovador, responsável pela encenação de Blanche, Stanley e Stella, personagem “fonemalizada” e corporificada por Andressa Cabral, alguém que conheço de suas atuações e aulas dadas no Espaço dos Satyros. Sob sua coordenação, cursei uma oficina que debateu justamente a possibilidade de se encenar Williams, enquanto ela propunha a fisicidade teatral de Meyerhold e executava em nossas práticas standards musicais de todos os tempos, entre os quais “Over the Rainbow”, que pontua a retirada de Blanche Dubois do último resquício de vida afetiva e familiar rumo à internação psiquiátrica. Certamente, vem da atriz uma boa parte da modulação sonora-enunciativa de Blanche e outra da teatralidade física contagiante na concepção da cena fonêmica e integralmente corpórea desse Antunes renovado que se dá a ver até dia 1/10/16 ali na Vila Buarque, entre outras ruas próximas do Centro (teatral) paulistano.
O que faz, de modo surpreendente, a atualidade do dramaturgo TW, além do travestismo (impresso à versão TPC da protagonista Blanche D.), do despojamento cênico e da desdramatização possibilitada através do “fonemol”, se encontra na ausência da linguagem (mais do que a substituição de uma língua por outra incompreensível).
Sempre intrigante, na leitura de Agamben em Infância e História, se apresenta o desafio do humano, em sua duração, na descoberta da própria voz (em vez da manutenção de uma linguagem adquirida progressivamente desde o nascimento de qualquer um). Dicção que não se aparta de uma escuta do corpo – compreendido enquanto soma (noção definidora do plano físico e de seus imateriais, potências em insurgimento e contato contínuo). Em tal busca, uma outra noção de temporalidade e o potencial do jogo, do brinquedo (arte, fabulação, saber erguido em múltipla construtividade), despontam como horizonte na historicidade que atravessa toda existência –
Um modo múltiplo de desmontagem do sentido circunscrito a um sistema organicamente dado se impõe. Alude-se antes a um encontro intempestivo, involuntário, com a coleção/constelação, sempre em tradução e abertura, da narrativa de um percurso. Este se faz indissociável de muitos outros signos reveladores de uma vida, sempre por vir, incessante e pluralmente configurada, sob o átimo de cada segundo em paradoxal surgimento e escoamento simultâneos. Assim, é declarada ao final do “espetáculo”, por parte de uma atriz (a tilintar um sino desde a abertura, na passagem e no recomeço de um e outro ato, como arte/cena antiga, imemorial, dada ao vivo, inseminando um senso de moralidade a um “tableau”) a informação (aparentemente redundante, à guisa, porém, de legenda ante uma encenação desenrolada em “fonemol”) de que se passou “a história de duas irmãs”.
Blanche assinala a importância de se atingir a dinâmica de átomo/fonema que sintetiza o teatro – sua unidade básica, grau zero do instante tomando forma como ato único. Algo raro de ocorrer, tendo-se em conta a reverência à mestria dos encenadores – dedicados a uma assinatura superautoral (não necessariamente atinente à teatralidade) – e a supremacia do texto em sua verbalidade de monumento, no mais das vezes erguido em prejuízo da arte em estado direto. Justo, o que vem de corpos em ação sob um fio de voz a silenciar o limite do já escrito e a compreensão convencionada do que contém uma cena.
